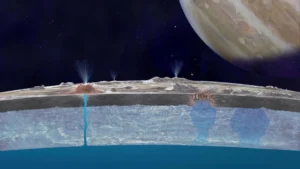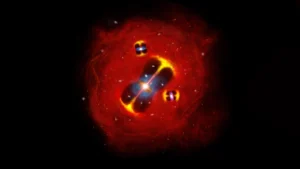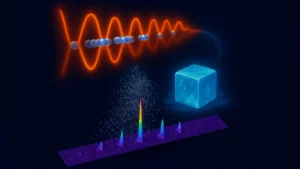Este texto é a segunda parte do ensaio publicado a 9 de janeiro no Jornal Económico.
Com base em mais de vinte e oito anos de experiência ou observação próxima, concluo que o interesse nacional foi mais bem atendido quando as negociações ocorreram no âmbito do método comunitário, possuindo uma abordagem holística e a visão política necessária para promover os interesses a longo prazo do País. Essa conclusão se aplica igualmente a outros Estados-membros, conferindo um caráter estratégico a essas decisões comunitárias.
As negociações relacionadas com os Quadro Financeiros Plurianuais exemplificam essa abordagem integrada, permitindo a definição simultânea de recursos financeiros e a intensidade das políticas que impactam o orçamento comunitário (Pacotes Delors I, II e III). Essas negociações resultaram na definição de objetivos e diretrizes políticas que envolveram o governo central e empoderaram os representantes em cada parte da negociação, oferecendo uma capacidade de resposta superior em comparação com o processo político-administrativo convencional de cada país.
Entretanto, é importante ressaltar que, na ausência de uma abordagem holística, o método comunitário não garante por si consistência com os objetivos a longo prazo da UE ou com outras políticas setoriais. A proliferação de propostas e a adoção de medidas setoriais podem, na verdade, reduzir a intensidade das considerações holísticas e estratégicas durante as negociações, levando ao alinhamento das propostas e das posições com o status quo ou com os interesses de uma das partes, frequentemente a mais influente no espaço público ou político. Isso significa que, sem uma abordagem holística, o método comunitário pode favorecer um descompasso entre o setor produtivo e a regulamentação existente. Essa observação é pertinente tanto para os Estados membros na definição de suas posições de negociação quanto para a formulação de propostas pela Comissão Europeia, que exerce seu monopólio de iniciativa.
Um exemplo da falta de uma abordagem holística ocorreu nas negociações comerciais do Uruguai Round, cuja responsabilidade recaía exclusivamente sobre a Comissão Europeia. Nesse caso, a negociação foi predominantemente setorial, desconsiderando dimensões cruciais como a política de regeneração industrial, concorrência, e inovação tecnológica. Além disso, a negociação foi amplamente influenciada pelos interesses de países importadores e comerciantes de produtos em deslocalização, enquanto os produtores comunitários e seus Estados tentavam, de maneira estática, conservar o mercado comunitário, em vez de responder dinamicamente alterando a natureza ou qualidade da oferta. Essa abordagem não favoreceu a recuperação da capacidade produtiva europeia e foi comum entre os países que demoraram a revisar seus modelos de especialização. Havia uma ilusão de que seria possível construir uma “barreira contra o oceano Pacífico”. Recordo que, durante o “Uruguay Round”, a União Europeia ainda defendia a chamada “exceção cultural” para o setor audiovisual, buscando proteger quotas de exibição de filmes quando a evolução tecnológica já sinalizava uma transição para as plataformas digitais, streaming e pay-per-view. O mesmo padrão se repetiu em outros setores tradicionais, onde as posições nacionais foram rigidamente moldadas, resultando em altos custos pela defesa de interesses que já estavam irremediavelmente condenados.
As políticas setoriais tendem a ser dominadas por interesses estabelecidos dos usuários ou consumidores, sem considerar a necessidade de uma evolução simultânea das regras de mercado, das capacidades de produção e da articulação entre os diversos aspectos do sistema europeu de inovação (pesquisa, desenvolvimento tecnológico, formação e educação) e sua relação com o sistema produtivo e o potencial empreendedor. O mercado europeu tornou-se uma verdadeira “caixa de areia” para os produtores de países terceiros experimentarem seus processos de inovação.
Por outro lado, a aplicação do método intergovernamental tende, por um lado, a dificultar a consideração dos interesses de pequenos e médios Estados, especialmente quando estes apresentam maior especificidade, e, por outro, a criar um ambiente instável dependendo dos interesses dos grandes Estados-membros ou do desinteresse de outros, que bloqueiam o processo de decisão ou exigem contrapartidas fora de um quadro transacional aberto e multidimensional.
Assim, no âmbito do processo intergovernamental de coordenação das políticas económicas, assistiu-se a uma deriva intergovernamental, onde as regras passaram a ser vistas como passíveis de revisão, dependendo dos Estados que as desrespeitavam. Isso ocorreu, por exemplo, quando França e Alemanha repetidamente violaram o limite de 3% para o défice orçamental. Essa tendência agravou-se, especialmente em 2005, quando, sob pressão francesa e alemã, o Pacto de Estabilidade e Crescimento foi reformulado para incluir “circunstâncias relevantes” e proporcionar maior discricionariedade na sua implementação; e mais tarde, em 2011/2012, durante a crise das dívidas soberanas, com o Acordo de Deauville entre Merkel e Sarkozy, que agravou a desconfiança do mercado de capitais e intensificou as dificuldades dos Estados-membros com problemas de colocação de dívidas, acentuando as tensões na União Monetária. Essa deriva intergovernamental poderia ter comprometido a União Monetária, caso o BCE, uma instituição comunitária baseada na partilha de soberania, não tivesse assumido um papel de mitigação de danos, expresso na famosa declaração de Mario Draghi: “whatever it takes”.
A exclusão do método comunitário de políticas fora do âmbito do mercado único não afetou apenas os pequenos e médios Estados-membros, mas também a capacidade da União Europeia de adotar uma abordagem holística e dinâmica nas suas políticas e de compreender a articulação entre o sistema europeu de inovação, o sistema produtivo, a segurança e defesa, e o papel das instituições públicas na produção de bens públicos e na viabilização de indústrias ou serviços emergentes. Essa deriva intergovernamental levou à atual situação de crescente falta de autonomia estratégica, caracterizada pela incapacidade de produzir internamente bens e tecnologias críticas (como semicondutores, produtos farmacêuticos e defesa); dependência de fornecedores e fortes unilateralidades; insuficiência de capacidades militares e de defesa; e dependência tecnológica, especialmente em áreas como inteligência artificial e cibersegurança.
Os efeitos da falta de visão e coragem ao longo de três décadas se farão sentir no futuro, à medida que os europeus encarem novos desafios. A resposta reside em uma visão holística das políticas e em um controle democrático que responsabilize seus impactos na sustentabilidade do crescimento, bem-estar e segurança dos cidadãos europeus. Isso requer uma capacidade de reestabelecer a dinâmica de integração através da intensificação do processo de partilha de soberania nas áreas críticas para reforçar a autonomia estratégica da União Europeia, conforme sugerido no Relatório Draghi; e, em segundo lugar, coragem política para retomar as propostas de diferenciação das áreas de integração e dos processos de decisão de Jacques Delors, nos anos 90, permitindo que diferentes grupos de Estados-membros avancem em diferentes ritmos e áreas, de acordo com suas capacidades e vontades políticas.
É necessário retomar a construção em círculos concêntricos: mercado único (revitalizando o espaço Económico Europeu); união económica (transferindo para o método comunitário as políticas fundamentais para uma afirmação ou recuperação da autonomia estratégica da União); União Económica e Monetária (introduzindo o método comunitário nas políticas relacionadas à coordenação económica e financeira dos Estados da zona do euro, assim como em segurança interna e externa, desenvolvendo o correspondente pilar político e institucional). Isso implica que, assim como ocorreu na criação da UEM e com a participação na moeda única, serão necessárias duas condições para cada círculo de integração: partilha de objetivos e aceitação de regras de acesso e funcionamento.
Essa resposta exige uma revisão dos estatutos das instituições, especialmente da Comissão Europeia, para assegurar simultaneamente a representação dos Estados-membros, a eficácia operacional e a responsabilização democrática pelos resultados, avaliados pela evolução da autonomia estratégica da União Europeia. Assim como ocorreu com o Banco Central Europeu, seria pertinente a adoção de um Estatuto para a Comissão Europeia, com os estatutos do BCE servindo como uma boa referência em termos de representação, poder executivo e prestação pública de contas sobre os resultados das políticas para a evolução social e económica da União e seu posicionamento dentro das interdependências globais.
Trata-se de uma agenda ambiciosa que demanda uma reconfiguração dos tratados e, consequentemente, uma nova Conferência Intergovernamental. Não será uma tarefa fácil, mas é cada vez mais urgente.